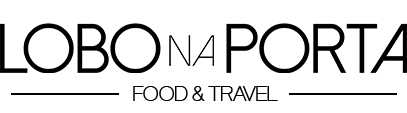A manhã estava húmida, e algo fria, quando James, o guia da Ko Min Kalaw Trekking Service, a agência que, tal como referi na crónica anterior, escolhemos para, durante dois dias e uma noite, nos levar, pelos trilhos da montanha até ao Inle Lake, nos veio buscar. O preço, 50 dólares por pessoa, incluía todas as refeições, estadia e demais logística. Apesar de ser, sensivelmente, o dobro das restantes opções, prometiam um serviço competente, e diferenciador, com uma rota alternativa, sem turistas, o que cumpriram à risca. Por algum motivo são a empresa N.º 1 de Kalaw, no Tripadvisor.
Com um sorriso enorme, James foi-nos preparando para a árdua caminhada, de vinte quilómetros, que faríamos, nesse dia, até aos 1800 m de altitude, onde se situava a aldeia que nos iria acolher. Ao seu lado, estavam o Andre e a Talia, um casal de sul africanos que nos iria acompanhar durante a jornada.
Ainda não vos tinha contado, até porque este “detalhe” é importante para a crónica, mas, duas semanas antes de viajarmos, o Luís, o meu companheiro (da vida), teve um acidente rodoviário. Basicamente, numa entrada da A2, um idiota fez mal a curva e bateu, com o carro, na roda da mota, acertando-lhe no pé e deixando-o de muletas. Apesar de não ter partido nada, ponderámos cancelar tudo. Felizmente, melhorou, pelo que acabámos por manter os planos. Contudo, a duvida mantinha-se: “Será que iria ter condições para fazer o trilho? E se acontecesse algum azar no meio de nenhures, sem assistência ou rede de telemóvel? Dupla de irresponsáveis”. Estes pensamentos, haveriam de me assaltar o percurso inteiro.
Classificado, desde 2015, como Reserva da Biosfera da Unesco, o lago possui uma superfície de 116 km, situando-se a 880 m de altura. Ponto de visita obrigatória no Myanmar, é berço de centenas de peixes, plantas e aves aquáticas, encontra-se rodeado por casas sob estacas, que lhe conferem um ambiente único. Foi a pensar nesta verdadeira recompensa que me animei, não só para caminhar, mas, sobretudo, para enfrentar os ténis da North Face, que havia encomendado umas semanas antes, e me magoavam, ferozmente, os calcanhares. Felizmente, a beleza da paisagem, e a aragem fresca da manhã, ajudaram-me a abstrair das dores, e dos pensamentos negativos, pelo que os primeiros quilómetros foram percorridos (quase) sem esforço.




A primeira parte do trajecto foi, também, uma verdadeira aula de agricultura e de história do próprio Myanmar, sobretudo do período da ditadura militar e da guerra civil (1962-2011). O nosso guia era um professor reformado, extremamente culto, que partilhou uma visão crua, e simples, sobre os actos atrozes que foram cometidos, do impacto negativo no desenvolvimento do país, e das carências da população das montanhas. Entre falta de saneamento básico, água, cuidados médicos ou educação, os birmaneses tinham demonstrado verdadeira resiliência, e capacidade de adaptação, ao ponto de transformarem um fruto chamado Jatropha Curcas, originário das Américas, mas difundido, por todo o globo, pelos portugueses, em combustível para os candeeiros. E, assim, entrámos no coração de Burma, numa experiência, verdadeiramente, imersiva.
Aqui, e ali, multiplicavam-se as casas de campo, rodeadas por campos agrícolas, vacas a pastar, e árvores centenárias, de uma beleza inacreditável. James foi-nos explicando quais os produtos da época, como se cultivavam, e contando algumas histórias tristes sobre a má utilização de pesticidas perigosos, proibidos na Europa, que estão a contaminar os solos, e são usados por gente sem formação. A que mais me marcou foi da mãe que estava a misturar o produto com água, o bebé chorou com fome, deu-lhe de mamar, e ele morreu envenenado. Palavra de honra que consegui visualizar os gritos desesperados da senhora, ao perceber que a criança não respirava.



 Em geral, os birmaneses são as pessoas mais simpáticas, hospitaleiras, afáveis e genuínas que encontrei, até hoje, na Ásia, e, os habitantes das montanhas de Kalaw, apesar de não falarem uma palavra de inglês, não são excepção. Sempre que nos cruzávamos, faziam questões de nos cumprimentar, e parar, para dois dedos de conversa. Felizmente, o James dominava o dialecto da região, e fez, também, de nosso tradutor. Impreterivelmente, todos nos perguntaram o que estávamos a achar do passeio, fazendo um sorriso rasgado quando respondíamos: “Estamos a adorar”. Esta questão tem, por detrás, um motivo muito pertinente, é que, pela proximidade da guerra civil, e alguma instabilidade política e social, o Myanmar não é o país mais turístico do mundo, e, a questão do genocídio dos Rohingyas, só veio piorar a situação, pelo que todos os viajantes são super acarinhados. Perdi a conta das vezes que nos pediram para, quando regressássemos a casa, falassemos bem do país, para que os nossos amigos o escolhessem como destino de férias. O que fizemos de boa vontade, até porque é verdade.
Em geral, os birmaneses são as pessoas mais simpáticas, hospitaleiras, afáveis e genuínas que encontrei, até hoje, na Ásia, e, os habitantes das montanhas de Kalaw, apesar de não falarem uma palavra de inglês, não são excepção. Sempre que nos cruzávamos, faziam questões de nos cumprimentar, e parar, para dois dedos de conversa. Felizmente, o James dominava o dialecto da região, e fez, também, de nosso tradutor. Impreterivelmente, todos nos perguntaram o que estávamos a achar do passeio, fazendo um sorriso rasgado quando respondíamos: “Estamos a adorar”. Esta questão tem, por detrás, um motivo muito pertinente, é que, pela proximidade da guerra civil, e alguma instabilidade política e social, o Myanmar não é o país mais turístico do mundo, e, a questão do genocídio dos Rohingyas, só veio piorar a situação, pelo que todos os viajantes são super acarinhados. Perdi a conta das vezes que nos pediram para, quando regressássemos a casa, falassemos bem do país, para que os nossos amigos o escolhessem como destino de férias. O que fizemos de boa vontade, até porque é verdade.
Quase sem darmos por isso, havíamos percorrido, já, uns bons dez quilómetros, quando a fome se apoderou de nós, e fomos encaminhados para o “restaurante” onde haveríamos de almoçar. A competência da agência é tal, que o cozinheiro seguiu à nossa frente, para preparar um menu composto por noodles, fruta fresca e sopa, num verdadeiro manjar dos deuses.




Durante a refeição, tivemos oportunidade de conhecer, melhor, o Andre e a Talia, nossos companheiros de viagem, dos quais só tenho fotos tremidas, mas podem conhecê-los aqui, através das imagens do seu casamento, que são, diga-se de passagem, incríveis. Ambos judeus, com trinta e poucos anos, trabalhavam na área financeira, tinham-se conhecido na faculdade, em Joanesburgo, e namorado durante uma década. Recém-casados, estavam, ainda, em modo lua de mel, e, depois de Bali, estavam a viajar, durante três meses pelo sudoeste asiático, seguindo-se o Norte de África e a Europa, totalizando, praticamente, um ano fora de casa. Haja saúde, e dinheiro.
Eram extremamente simpáticos e foram uma companhia super divertida. Foi muito interessante deslocar-me, mentalmente, até à África do Sul, e ouvir sobre a cultura, os safaris, os mitos da criminalidade, e as vantagens, e desvantagens, de viver naquele país. Na sua perspectiva, o maior problema era conseguir visto para a Europa, uma vez que não pertencia ao espaço Shengen. Apreciadores das coisas boas da vida, estavam a experimentar os restaurantes do guia Michellin, e tinham um budget diário de 200 euros, que me deixou super impressionada, já que esse era, praticamente, o nosso, mas por semana. Super apaixonados, estavam num namoro constante, e achei super curioso o facto de ele carregar as duas mochilas (mesmo à herói).
Foi em amena cavaqueira que nos despedimos dos nossos anfitriões, e caminhámos até à aldeia seguinte, por entre os inacreditáveis templos de ensino budista, para onde as crianças são enviadas para ter acesso ao ensino, pelo menos, até à idade adulta, momento em que podem optar pela continuidade, ou não, da vida religiosa.



Quase sem darmos por isso, estávamos dentro de uma das casas da aldeia, a beber chá e a comer milho frito, que era delicioso. Feita de madeira, a casa era composta por rés do chão, uma espécie de celeiro, e primeiro andar, onde a família, composta pelos pais e três crianças, vivia. Para um arqueólogo foi como recuar três ou quatro mil anos no tempo, até às aulas de pré-história recente. A rudimentariedade dos objectos, a forma de cozinhar, a inexistência de mobiliário, é um cenário tão oposto ao nosso, que parecia saído de um documentário da National Geographic. Tenho a ideia de que a senhora que nos recebeu, partilhou, connosco, praticamente, tudo o que possuía, permitindo-nos guardar memórias para a vida, numa experiência única, e genuína, que não teria sido possível com uma agência que opte pelos trilhos turísticos. No final, James deu-lhe medicamentos, bem raro por aqueles lados, e deixámos algum dinheiro, como agradecimento pela hospitalidade.



 Escusado será dizer que, ao avistar um grupo de estrangeiros, e movidas pela curiosidade, as mulheres e crianças da aldeia, saíram à rua para nos saudar, num misto de curiosidade e divertimento. Cumprimentámos toda a gente, e por mímica, agradecemos o acolhimento, e pusemos pés ao caminho, para percorrer os poucos quilómetros que faltavam até ao alojamento.
Escusado será dizer que, ao avistar um grupo de estrangeiros, e movidas pela curiosidade, as mulheres e crianças da aldeia, saíram à rua para nos saudar, num misto de curiosidade e divertimento. Cumprimentámos toda a gente, e por mímica, agradecemos o acolhimento, e pusemos pés ao caminho, para percorrer os poucos quilómetros que faltavam até ao alojamento.
E, foi, então, que o Myanmar nos brindou com um visão inesquecível: O pôr-do-sol sob as montanhas de Kalaw, onde o verde se funde com o azul e o laranja exuberante dos últimos raios do dia. Nesse momento, um pensamento invadiu-me a mente: “Se morresse ali, morreria feliz”. Apesar de cansados, com fome, dores nos pés, e mortos para ir à casa de banho, não resistimos em parar e apreciar o momento. Por essa altura, e pelas habitações que tínhamos visto, já suspeitava que não iríamos ter o conforto a que estamos habituados. No entanto, aquela experiência estava a ser tão boa, e enriquecedora, que, qualquer sacrifício, me parecia razoável. Já os meus companheiros de viagem, não estavam tão optimistas, e tinham um ar muito aterrorizado com a perspectiva da ausências de condições de higiene, o que se veio a confirmar umas horas depois. (Não fujam: To be continued).



 Não perca a crónica anterior:
Não perca a crónica anterior: